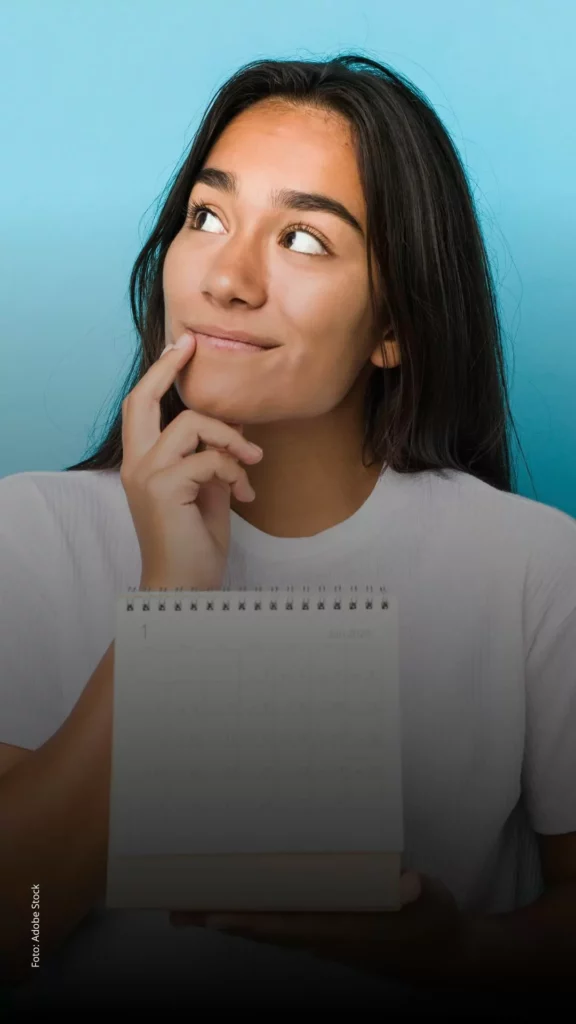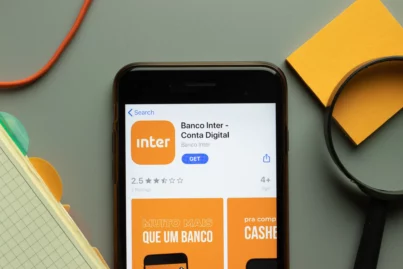De um lado, crescimento nas apostas de risco e, do outro, a renda fixa cobrando prêmios mais altos para financiar governos endividados. Para analistas, esse desalinhamento marca uma fase de ruptura na dinâmica que prevaleceu até a pandemia. “Parece que estamos em um período de transição. Os padrões que víamos no passado não se repetem necessariamente”, resume Rafael Perez, analista da Suno.
Após a pandemia, EUA, Europa e Japão elevaram suas dívidas dentro de um ambiente que deixou de ter juro zero. Rolar esse passivo agora custa mais caro e traz dúvidas sobre a sustentabilidade fiscal. Os governos rolam seus débitos emitindo novos títulos para pagar os antigos e, com isso, jogam o vencimento – e o desembolso – para frente.
Com o mercado exigindo juros mais altos, a taxa considerada “de equilíbrio” subiu. Agora, para a política monetária surtir o mesmo efeito de antes, ou seja, manter o poder de compra das moedas ao controlar a inflação, os bancos centrais precisam aumentar a intensidade dos juros – e por mais tempo . Uma conjuntura que o brasileiro vem sentindo também com a Selic acima de dois dígitos desde fevereiro de 2022, atualmente estabilizada em 15%.
Além disso, os conflitos regionais e a intensificação da guerra comercial, impulsionada por Donald Trump, passaram a encarecer cadeias de comércio, pressionando preços. “A guerra comercial significa menos comércio, menos crescimento e mais inflação. Isso obriga os países a manterem juros elevados no longo prazo”, diz Perez.
Alta concentrada e crise com o Fed
Por outro lado, a alta dos índices acionários, a exemplo do S&P 500 renovando máximas meses a fio, não é ampla. Ela se concentra em poucas empresas ligadas à inteligência artificial e o restante do mercado americano parece não acompanhar esse ritmo. “As empresas de tecnologia têm puxado os índices. Isso lembra, em parte, a bolha de 2000”, afirma Perez. Se a narrativa de lucros futuros – que sustentam as altas – não se confirmar, o ajuste virá na queda dos preços desses papéis.
Os atritos de Trump com as instituições americanas também acrescentam mais apreensão neste novo cenário. A principal delas é a tentativa de o presidente americano de influenciar o Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA, a baixar os juros. Mesmo com o início de cortes de juros na última quarta (17), as taxas de longo prazo seguem em alta por lá. Tanto pelo temor fiscal dos EUA – o shutdown do governo voltou às manchetes – quanto pela independência do Fed.
A recente indicação de Stephen Miran, por Donald Trump, à diretoria da autoridade monetária trouxe um voto divergente. Ele defendeu um corte 0,5 pontos, contra 0,25 dos demais. “A dúvida é se o Fed vai se comportar como uma entidade independente ou se haverá influência política. Isso estressa, principalmente, a curva de longo prazo”, comenta Pedro Moreira, sócio da One Investimentos.
Gabriel Mollo, analista de investimentos da Daycoval Corretora, explica que a alta dos juros longos nos EUA reflete a preocupação do mercado com o futuro da economia americana, especialmente por causa do nível elevado de endividamento do país. “O mercado está precificando o afrouxamento que aconteceu agora, mas vê que, no médio e longo prazo, a economia norte-americana pode passar por dificuldades, principalmente pelo nível de endividamento.” Segundo o Tesouro americano a dívida do país ultrapassa US$ 29 trilhões, valor superior ao Produto Interno Bruto (PIB). Segundo os analistas, a trajetória ascendente pode levar a aumento de juros, ampliando gastos com serviço da dívida, comprimindo a economia.
No palco global, a estratégia de Trump de reorientar o comércio internacional por meio de tarifas é vista por muitos analistas como um movimento que redefine as relações entre países. Esse processo sinaliza o surgimento de uma nova ordem mundial, marcada pela disputa de influência entre EUA e China. Por enquanto, o resultado dessa política externa é um dólar mais fraco, que tem o objetivo de aumentar as exportações americanas.
Brasil poderia se beneficiar mais da rotação
Com isso, parte do capital busca a Europa como porto relativamente mais estável no curto prazo, embora o continente também deva enfrentar pressões fiscais derivadas de mais gastos militares, motivados por esse novo rearranjo imposto por Trump ao reduzir os gastos de seu país com a proteção de aliados.
Outra parte desse capital que sai dos EUA também vem para emergentes.
Gabriel Mollo, analista de investimentos da Daycoval Corretora, compara o cenário americano com a situação brasileira, onde também existe aumento da dívida pública, ao mesmo tempo em que a bolsa bate recordes – acima dos 145 mil pontos, o Ibovespa está no seu maior nível histórico. O analista destaca que, hoje, os investidores têm um horizonte de planejamento mais curto, operando trimestre a trimestre, em vez de pensar no longo prazo.
Essa visão ajuda a contextualizar os movimentos bruscos de mercado, como a valorização da Magazine Luiza (MGLU3) em mais de 30% neste mês. “Mais do que contraditório, eu diria que o mercado está cada vez mais olhando para um prazo menor, mais curto, devido ao fluxo intenso de informações e à maior volatilidade.”
Investidor estrangeiro puxa a Bolsa
O caso da Magalu é emblemático, avalia, com a valorização impulsionada pela expectativa de cortes futuros e pelo fechamento de posições vendidas (short squeeze). Esse fenômeno acontece com investidores que alugam ações e vendem esses papéis esperando desvalorização para recomprá-los e embolsar a diferença. Mas, em vez de cair, os preços dessas ações sobem – então aqueles que estão vendidos passam a fazer a operação contrária para evitar um prejuízo maior, amplificando ainda mais a tendência de alta do papel. O short squeeze chamou muita atenção em 2021, com as ações da empresa norte-americana GameStop.
No Brasil, quem sustenta o rali recente de alta na Bolsa é o investidor estrangeiro. O diferencial de juros, com a Selic elevada (15%), mantém o país atrativo para o chamado “carry trade”, em que investidores captam recursos em países com juros mais baixos e aplicam em mercados com juros altos, buscando lucro.
Esses movimentos favorecem o real, com o câmbio em queda e os ativos brasileiros, com a Bolsa registrando recordes, resultado da maior entrada de capital estrangeiro no 1º semestre em 3 anos em 2025. Mas há teto, pois o risco fiscal e o calendário eleitoral de 2026 limitam um ciclo mais duradouro de valorização. “Se o Brasil tivesse o fiscal mais ajustado, poderia surfar melhor essa onda externa positiva”, diz Perez.
O que fazer com a carteira neste cenário desafiador?
Numa conjuntura de certa forma inédita e mostrando sinais contraditórios, a pior decisão costuma ser a impulsiva. Disciplina, diversificação e foco em fundamentos viram diferenciais, avalia o especialista. Neste sentido, renda fixa continua muito atrativa, dada a taxa doméstica elevada num diferencial de juros em relação aos EUA que pode chegar a 11 pontos até o final do ano, caso o Fed traga mais um corte de 0,25 pontos (para a faixa de 3,75%-4,00%) e o Copom, aqui no Brasil, mantendo os 15% da Selic.
O ciclo de cortes nos EUA tende a enfraquecer o DXY, indicador que mede o dólar frente a outras moedas globais. “A moeda brasileira vem performando bem frente ao dólar, embora mais por fundamentos de um dólar mais fraco do que por um real mais forte”, observa Moreira, da One Investimentos. Ele recomenda que os investidores dolarizem parte do patrimônio, como forma de proteção. “O dólar é a principal moeda do mundo e uma forma de se proteger de riscos tanto no cenário brasileiro quanto global.”
No longo prazo ele cita títulos americanos de 20 ou 30 anos, que hoje oferecem taxas atrativas com risco baixo. Para curto prazo, recomendam-se ações sensíveis a juros, tanto nos EUA quanto no Brasil, que tendem a se valorizar com o ciclo de cortes. “Ativos locais ainda exigem cautela em função dos riscos fiscais e do cenário eleitoral de 2026“, diz.