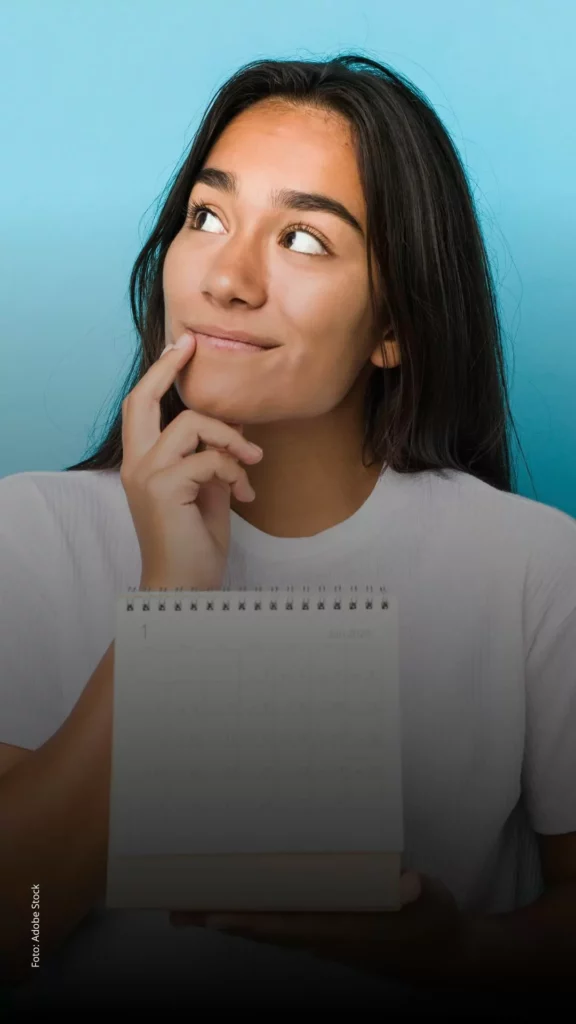A geração Z cresceu assistindo à Lava Jato ainda na adolescência: delações, prisões cinematográficas, promessas de “fim da corrupção”. Agora, começa a investir e trabalhar num mundo em que vê alguns desses personagens recorrendo, mudando de narrativa, disputando versões. A sensação de impunidade ou de punição seletiva é corrosiva. Ela não destrói só a confiança nas instituições; vai rebaixando, silenciosamente, a régua interna do que cada um considera aceitável fazer.
O caso do Banco Master é um retrato duro desse cenário. De um lado, uma instituição sob investigação por irregularidades graves. De outro, o investidor pequeno, iniciante, que estava dando seus primeiros passos além da poupança, justamente em busca de um porto seguro. Ele foi ensinado, por campanhas, plataformas, materiais educativos, que títulos de renda fixa com garantia do FGC eram a porta de entrada para aprender a poupar e investir com proteção. O FGC nasceu para isso: proteger o brasileiro comum e incentivar a formação de reserva. Não para servir de colchão de pirâmide financeira sofisticada, nem para cobrir rombos causados por decisões corruptas de líderes e tomadores de decisão do próprio sistema financeiro. Quando uma estrutura criada para proteger o cidadão passa a ser usada como escudo para produtos tóxicos, não é o investidor que está em falta; é o sistema que entra em crise de credibilidade.
O economista comportamental Dan Ariely mostra, em seus estudos sobre desonestidade, que a maioria das pessoas não é grande criminosa nem santa. A maioria “trapaceia só um pouquinho”: um reembolso ajustado aqui, uma omissão ali, desde que consiga seguir se vendo como “boa pessoa”. O que faz esse “pouquinho” crescer não é a lei em si, mas o ambiente. Quando vemos alguém parecido conosco se beneficiar de uma pequena trapaça, nossa régua interna escorrega um centímetro. Quando vemos líderes poderosos enriquecerem com grandes trapaças, nossa régua corre metros. Quando quem manda rouba bilhões, o cidadão começa a achar que sonegar alguns reais é detalhe.
É aqui que liderança, corrupção e comportamento financeiro se encontram. O líder que frauda balanço, “maquia” resultados ou constrói estruturas inteiras para enganar o mercado está ensinando, na prática, que o jogo é empurrar o limite até onde der, desde que exista uma boa narrativa. A mensagem que chega na ponta é perigosa: se no topo podem criar créditos fictícios, superfaturar contratos ou flertar com golpes institucionais, por que eu não poderia esconder um pedaço da renda, “blindar” um patrimônio do cônjuge ou apostar mais do que posso perder, desde que ninguém veja?
A geração Z, que hoje assina contratos, lidera equipes, empreende e investe, olha para isso com mistura de revolta e cansaço. Ouço com frequência: “se todo mundo lá em cima é assim, por que eu vou ser otário?”. Ao mesmo tempo, é essa mesma geração que mais cobra coerência, propósito, ESG, transparência, que cancela marcas incoerentes e sai de empresas com cultura tóxica. A modelagem que ela recebe do topo é ruim, mas a demanda interna por ética é alta. Essa tensão mora dentro dos jovens e dentro das organizações que querem atraí-los e retê-los.
O impacto da impunidade, ou da sensação de que “os grandes sempre dão um jeito”, aparece diretamente nos comportamentos financeiros. É o profissional que aceita participar de um esquema de nota fria porque “ninguém é de ferro”. É o cidadão que conclui que cumprir regra é coisa de ingênuo e passa a ver o jeitinho como estratégia de sobrevivência. E é também o investidor iniciante que descobre, com choque e frustração, que mesmo fazendo “tudo certo”, estudando o básico, confiando em garantias oficiais, seguindo orientação, pode ser engolido por decisões tomadas em salas onde ele nunca entrou. O investidor pequeno não é cúmplice: ele é o termômetro de como o sistema protege ou abandona o cidadão comum.
Quando quem está em cima usa estruturas de proteção coletiva para blindar esquemas privados, a confiança implode. O caso de um banco não abala apenas os clientes daquele banco; ele coloca em xeque a crença de que o sistema financeiro é minimamente confiável. A corrupção que corrói uma empresa ou um governo não destrói apenas aquele orçamento; alimenta o cinismo, que é o pior inimigo da responsabilidade financeira. Ninguém cuida bem do que não acredita que valha a pena proteger.
Ainda assim, eu acredito que o ser humano pode dar certo! Os mesmos estudos de economia comportamental que revelam nossa tendência ao jeitinho mostram algo bonito: temos um senso forte de justiça, cooperação e altruísmo. Pessoas doam sem ganhar nada em troca, ajudam desconhecidos, recusam acordos que consideram injustos mesmo quando perderiam dinheiro ao aceitá-los. Em contextos em que integridade é valorizada e exemplificada, a honestidade aumenta. Quando o exemplo muda, o comportamento muda.
A saída não está em concluir que todos são corruptos por natureza, nem em esperar que uma nova operação espetacular resolva tudo. A saída começa em decisões pequenas e constantes: o líder que recusa um atalho conveniente e explica o porquê; o empresário que escolhe um crescimento mais lento, porém limpo; o investidor institucional que assume seu papel de filtro, em vez de empurrar risco opaco para a pessoa física; o pai ou mãe que mostra aos filhos que pagar imposto, cumprir contrato e dizer “não” a um ganho fácil também é forma de cuidar da família.
Enquanto líderes, banqueiros e empresários aparecem nas manchetes pelos piores motivos, a pergunta que sobra para cada um de nós é menos grandiosa e mais incômoda: que tipo de modelo eu estou sendo para quem me observa de perto? Não controlamos as algemas do topo, mas controlamos a cultura que alimentamos na nossa casa, na nossa empresa, nas escolhas de consumo e investimento que fazemos todos os dias. O ser humano não deu errado. Ele está, o tempo todo, entre dois lados. E é na soma dessas escolhas miúdas, e não apenas nas grandes operações, que a corrupção deixa de ser “o sistema” e volta a ser aquilo que sempre foi: uma escolha que começa dentro de cada um de nós.